Partindo da minha tese de doutorado, em 1997 publiquei o livro Escolhi a Vida: Desafios da Aids Mental (Editora Olho d’Água). A pesquisa baseia-se em entrevistas com pessoas contaminadas com o HIV, ou que imaginavam sê-lo, numa época em que o diagnóstico era uma sentença de morte. Meu foco eram os significados simbólicos associados ao vírus, os quais variavam muito de um indivíduo para outro.
Além da marca da morte, considerando a forma de transmissão e o primeiro grupo mais atingido (os homossexuais), havia um forte estigma sexual associado ao “aidético” (palavra que, em si, já trazia a marca do estigma).
No entanto, para os contaminados, havia significações diferentes. Para uns, era a confirmação da “coisa horrível” que supostamente eles eram e que merecia o castigo que estavam sofrendo. Esses morriam rapidamente. Para outros era o provocador de uma rebeldia saudável, tal como “Vou enfrentar essa ‘coisa horrível’ e mostrar que ela não me vence”. Nessa direção, o exemplo mais claro foi o de uma jovem, portadora do HIV, que engravidou. O pai da criança também era portador. Isso em 1994. Todo o meio (familiar, de amizades, médico) exerceu pressão para que ela abortasse. Ela não aceitou. Foi avisada pelos médicos de que, usando o único remédio disponível na época, sua taxa de imunidade iria cair bastante, e ela passaria muito mal. Na realidade, a taxa de imunidade dela dobrou e ela não teve um enjoo. A criança nasceu saudável. Para ela, a gravidez era uma prova de que ela podia gerar vida, e não morte.
Para outro jovem, homossexual, o remédio significava “fim de linha” e a presença do vírus nele, a prova de que ele era “errado”. Os efeitos do remédio foram devastadores.
Um terceiro jovem, meu paciente, veio com a queixa de que, apesar de 10 exames negativos, ele continuava acreditando estar com AIDS. Havia uma mistura de alívio e decepção a cada resultado negativo. Ele estava prestes a procurar situações para se contaminar. Tratava-se de uma pessoa supostamente “perfeita”: profissional bem sucedido, bom filho, bom marido (impotente, porque queria preservar a esposa do HIV imaginário), paciente perfeito. Até acontecer um lapso sério meu, que ele ignorou. Questionado, a resposta foi: “Tudo bem”. Ao que lhe disse que se fosse comigo, não estaria tudo bem. Pelo contrário, ficaria com muita raiva.
Esse episódio trouxe uma guinada de 180 graus ao trabalho. E à vida do paciente. Apareceu um ódio represado mortífero. Ataques à análise, à família. Separou-se da esposa. O assunto do HIV desapareceu.
Minha conclusão: o HIV, um vírus real, é depositário da destrutividade, da agressividade que não pôde ser vivida saudavelmente e canalizada produtivamente. O HIV imaginário, que provoca o que chamei “AIDS Mental”, é uma tentativa de dar nome a essa destrutividade e, ao mesmo, tempo negá-la: “Está dentro de mim, mas veio de fora”.
Estamos vivendo uma nova pandemia. Um vírus que não é necessariamente mortífero, como era o HIV na época, mas cuja contaminação é muito mais difícil de controlar. Também observamos, na vida e na clínica, formas muito diferentes de lidar com a situação e, portanto, significados muito diferentes.
Pegando os extremos: num, a negação – é uma “gripezinha”, “posso me aglomerar à vontade, os cientistas são comunistas que querem nos enganar”, “tem mais gente morrendo de dengue do que de Covid-19” – aliada à uma atuação da agressividade, verbal e física. O outro extremo: a pessoa apavorada, que toma banho e higieniza tudo o dia todo, que sente que o vírus está no ar e pode atingi-la a qualquer momento. E que certamente será fatal. Vive uma angústia constante e se desespera pela mínima suposta falha nos cuidados. Evidentemente, entre os dois extremos temos inúmeras variantes. Inclusive no mesmo indivíduo, que vive momentos diversos.
Creio que estamos lidando com uma questão comum entre o HIV e o coronavírus: ambos são reais, mas seu significado depende muito do que é projetado neles, tendo como cerne a questão da agressividade.
Nas crianças, isso aparece de forma muito explícita. Segundo registro de uma analista de crianças, numa sessão, um menino de 5 anos escolheu uma bonequinha cujo “cabelo” lembrava crateras lunares. Disse que o cabelo era igual ao coronavírus e arrancou a cabeça da boneca para fazer essa cabeça invadir a sala de aula com as crianças e destruir tudo. Depois fez esse coronavírus atacar a casinha onde a família morava. E ninguém o continha. Ele jogou a boneca na parede, entre os móveis… A queixa dessa criança é agressividade descontrolada.
Nos adultos isso aparece de formas menos evidentes. A sensação de estar exposto sempre a um ataque, a sensação de culpa (“esqueci de limpar aquilo”), a angústia de morte (“serei castigado pelas coisas que sinto, que nem sei quais são”). Poderíamos nos alongar, o que não é o objetivo desse texto.
Mas tenho percebido que para muitos pacientes o isolamento tem trazido um contato com aspectos mais profundos, incluindo angústias. Nesse sentido é uma oportunidade para nosso trabalho como analistas.
Como perspectiva, queria retomar uma citação de Betinho (Herbert José de Sousa, sociólogo e ativista dos direitos humanos, hemofílico, portador do HIV, falecido em 1997) muito pertinente ao momento que estamos vivendo: “Viver sob o signo da morte não é viver. Se a morte é inelutável, o importante é saber viver, e para isso é importante reduzir o vírus da AIDS à sua real dimensão: um desafio a ser vencido”. E eu acrescentaria, para nós, analistas e nossos pacientes: uma oportunidade para ser aproveitada!
Texto escrito por Renate Meyer Sanches.
A Renate é psicóloga (PUC-SP), psicanalista, mestre em Psicologia Social (PUC-SP), doutora em Psicologia Clínica (PUC-SP) e professora aposentada da mesma instituição. Autora dos livros Psicanálise e Educação: questões do cotidiano, Conta de novo, mãe: histórias que ajudam a crescer e Winnicott na clínica e na instituição (todos pela Editora Escuta).
Conheça aqui nosso trabalho de supervisão clínica.

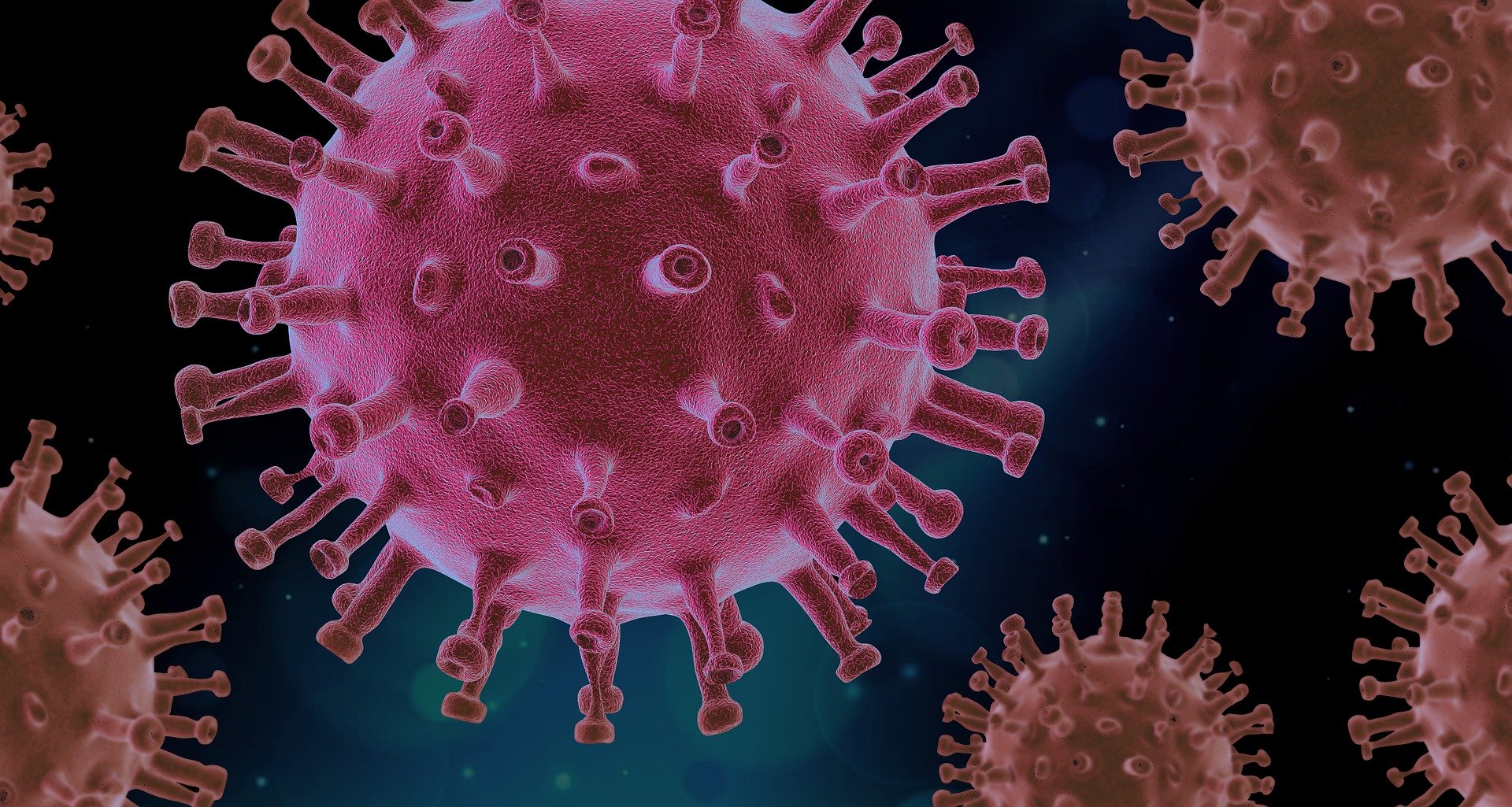
1 Comments
Comments are closed.