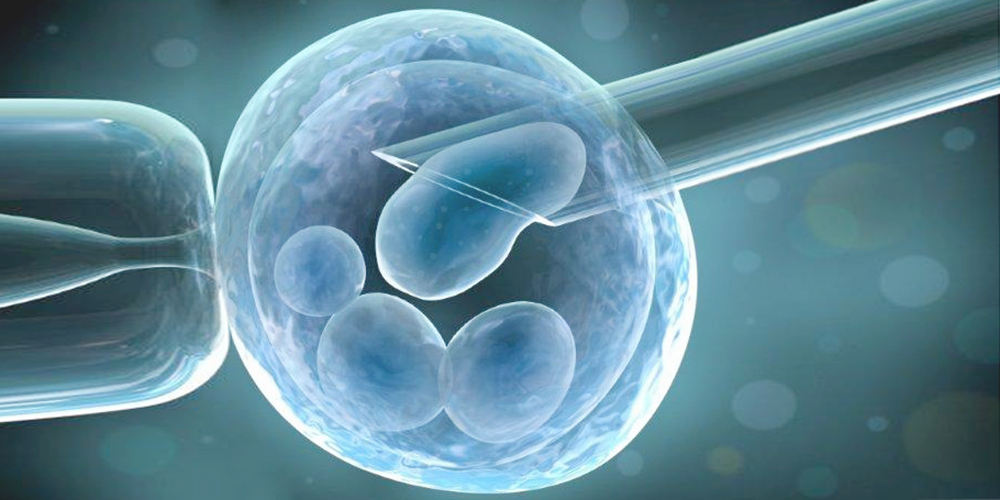No Brasil, a comercialização de óvulos (e de espermatozoides) não é permitida. Dessa maneira a ovodoação, técnica em que a mulher pode gestar um embrião que não contenha suas características genéticas, só se faz possível a partir da doação de óvulos.
De acordo com a regulamentação do Conselho Federal de Medicina (nº 2.121/2015) a doação deve ser anônima, ou seja, aquela que doa o óvulo – a doadora – e a aquela que o recebe – a receptora –, não têm acesso à identidade uma da outra. As informações que revelam seus dados pessoais, como nome e sobrenome, local de nascimento, entre outras, são restritas à clínica ou hospital aonde o tratamento é realizado.
Em linhas gerais, a ovodoação possibilita à mulher a experiência da gestação e, ao homem, a transmissão de suas características genéticas, o que se dá de modo diferente de uma adoção, na qual o casal não participa dessa “pré-história” da criança. Aqui, vale ressaltar que independente de ser um casal heterossexual ou um casal homoafetivo e, independente do gameta doado ser o óvulo ou o espermatozoide, as reflexões propostas neste texto continuam valendo, embora cada uma das configurações possíveis traz particularidades específicas que serão apresentadas em outros momentos.
Por outro lado, se pararmos para pensar atentamente no termo escolhido para designar este tipo de tratamento, OVODOAÇÃO, não poderemos ignorar sua relação direta com o termo ADOÇÃO. Embora sejam processos diferentes como mencionado acima, ambos possuem certa proximidade na medida em que a questão do desconhecido atravessa diretamente a origem da criança. Enquanto no segundo caso o que se desconhece diz respeito à sua história pregressa, no primeiro trata-se de parte de seu material genético, que também contém uma bagagem da qual não se sabe a origem, nem se tem notícias de sua história ao longo das gerações anteriores. Nesse sentido, tanto a adoção quanto a ovodoação contam com certo grau de estrangeirismo da criança que ali se apresenta como filho(a) daquele casal.
Considerando esta particularidade, muitas vezes para além das dores que costumam acompanhar homens e mulheres fazendo algum tratamento para engravidar, como a dor do luto de um corpo que não funciona como se imaginava, ou o luto de uma família idealizada nos moldes tradicionais, a ovodoação coloca em discussão os efeitos que tal estrangeiro pode produzir na construção de um laço afetivo entre a criança e seus pais.
A partir desta perspectiva, uma angústia frequente que escuto de casais nessas circunstâncias, principalmente de mulheres, diz respeito à dúvida quanto à possibilidade de estabelecer com o filho uma relação de reconhecimento: da criança enquanto filha desses pais e dos adultos enquanto pais desta criança. Como se o estrangeiro, por sua condição de “forasteiro”, se colocasse entre ambos como um entrave para o sentimento de pertencimento familiar. Ora, o que imaginamos que a herança genética pode garantir, a ponto de nos sentirmos extremamente ameaçados quando a sua origem nos é desconhecida? Só podemos amar aquilo que conhecemos?
Um filho antes de nascer e mesmo antes de ser gestado é sempre imaginado, em maior ou menor grau, por seus pais. Às vezes, desde crianças em nossas brincadeiras fantasiamos nossos filhos, lhe damos nomes e características próprias. Outras vezes, a imaginação acerca dele vem a partir de um determinado relacionamento amoroso, do desejo de experimentar a parentalidade que vai se intensificando diante de alguma experiência, ou mesmo da notícia de uma gestação que não foi planejada ou ainda, desejada. “Quantos filhos serão?”, “Gostaria que fosse menino ou menina?”, “Com quem se parecerá?”.
Na medida em que a gestação avança e que o bebê dá sinais de sua própria existência, as fantasias vão ganhando formas mais concretas. Com a descoberta do sexo, por exemplo, recortamos nossa imaginação numa ou noutra direção. Através das imagens que os ultrassons atuais nos fornecem podemos supor que seu nariz é parecido com o da família da mãe, ou através dos movimentos que faz dentro da barriga dela, podemos inferir que ele é “agitado como o pai”.
Diversos são os caminhos pelos quais homens e mulheres começam a idealizá-lo. Mas, sejam eles quais forem, estão sempre atravessados por suas histórias pessoais e familiares que agora, ao se unirem, tecerão o manto que vai acomodar o filho que chega, produzindo uma nova história que carrega as anteriores. Todo esse processo é extremamente fundamental para a constituição de uma criança, fazendo com que o bebê possa ser inserido numa cadeia familiar e, assim, ascender ao lugar de filho. Isto porque, entre outros fatores, é através da tentativa de desenhá-lo imaginariamente a partir das referências pessoais e familiares, que os pais poderão dar alguma sustentação para as angústias que surgem diante das transformações inéditas que sua chegada demandará.
Além disso, apesar da importância do processo acima apontado, quando o bebê finalmente nasce, ele é apenas um desconhecido para seus pais e vice-versa. Tudo aquilo que se supunha pode ou não se confirmar, a realidade daquilo que é próprio de cada um – mãe, pai e filho – se encarregará de imprimir sua marca, lembrando aos pais que o filho em muitos aspectos não corresponderá à imagem previamente criada e ao filho, que os pais não são e, nem deveriam ser, capazes de corresponder a todas as suas necessidades e desejos. Assim, o exercício de imaginá-lo ajuda os pais a, devagar, irem se apropriando de suas identidades maternas e paternas ainda que, ao longo da vida, estas irão sofrer constantes reformulações diante o desafio de se relacionarem entre si, tal como são.
Independentemente de como o filho foi concebido ou gerado, toda relação entre pais e filhos é, no começo, uma relação de estranhamento. A diferença é que na concepção natural, temos a ilusão de ter algum tipo de controle e saber a respeito deste estranho que está a caminho, tornando-o um pouco mais íntimo, ao passo que na ovodoação a ilusão de parte desse saber pode não encontrar arcabouço para se sustentar. Nestas situações, quais as saídas possíveis?
A primeira solução que se apresenta tem a ver com uma tentativa de negação, tanto do casal fazendo o tratamento, como da equipe médica que o assiste, a respeito desse aspecto. Parte-se do princípio que a herança genética não tem nenhum sentido ou significado merecedores de reflexão, a não ser em relação às características físicas e às doenças genéticas. Para lidar com a primeira preocupação, recorre-se a uma doadora que seja fenotipicamente semelhante aos futuros pais. Se parecida com a mãe, a tentativa é de que esta possa se encontrar e ser, pelos demais de seu círculo familiar e social, identificada na criança; se parecida com o pai, para que se justifique a ausência, na criança, de traços que aludem à mãe.
Já a respeito da preocupação acerca do histórico de doenças genéticas, a doadora preenche um cadastro no qual relata todos os dados importantes neste contexto, bem como assina um documento declarando ter fornecido informações verdadeiras.
No entanto, mesmo que se tente reduzir as angústias decorrentes de certo grau de estrangeirismo, às questões burocráticas que podem ser facilmente resolvidas através destas medidas, elas não são suficientes para apaziguar as inquietações que são despertadas no casal. Tal insuficiência pode, inclusive, ser observada a partir da quantidade de tratamentos de ovodoação que são interrompidos ou postergados através de justificativas dadas pelos casais que fazem alusão a algum descontentamento em relação à doadora. “Não se parece em nada comigo!”, “Não gostei de como ela sorri”, “Ela tem descendentes de olhos castanhos, na minha família só tem olhos azuis” e por aí vai.
Vale ressaltar que a questão apresentada aqui não tem a ver com o desejo de escolher a doadora, mas sim com o lugar em que esta escolha é colocada nas situações em que se visa negar ou abafar este desconhecido. A doadora pode servir de espelho para as fantasias parentais acerca do bebê, o que, como vimos, tem uma função importante. No entanto, se as angústias referentes à condição de adoção do estrangeiro presente neste processo não puderem surgir e nem serem acolhidas por todos os envolvidos, então é provável que seu fantasma irá acompanhar a relação familiar, assombrando-a. Por exemplo, ao transformar esse pedaço da história da criança num segredo, toda vez que comentários ou assuntos que remetam à origem da criança aparecerem, ou toda vez que haja um desentendimento entre pais e filhos, o fantasma da ovodoação mandará lembranças.
Outra saída que também sufoca tal estrangeirismo é encerrar as inquietações que ele pode suscitar numa resposta pautada pelo amor, como na expressão: “o amor supera qualquer desafio”, ou reduzir à história da criança ao amor dos pais – “os pais se amavam tanto e desejavam tanto um filho, que optaram por fazer o tratamento”. Claro que tais discursos também podem estar presentes e fazer parte da história daquela criança. O perigo, na realidade, é quando eles são apresentados como os únicos e exclusivos discursos a este respeito. Se numa relação entre pais e filhos o amor é visto como um imperativo, o que fazer quando qualquer outro sentimento, como cansaço, frustração, raiva, entre outros tão presentes na vida de um casal tentando engravidar, são experimentados? Por outro lado, se nem a herança genética e nem o amor garantem o vínculo afetivo, como será que se constitui a relação entre pais e filhos?
Vamos por partes. O que faz de uma mulher mãe e de um homem pai? Ter um filho é o mesmo que ser mãe e pai? É possível que um homem e uma mulher tenham um filho mas não se reconheçam como tal, mesmo quando legalmente eles são os responsáveis, tal registro não faz com que assumam os cuidados, nem que desenvolvam os afetos necessários para a sobrevivência e crescimento do bebê. Ou seja, para além do reconhecimento social e biológico da parentalidade existe a necessidade de apropriação das identidades parentais num percurso que visa sua construção e que independe da forma como a família se constituiu.
Durante muito tempo no ocidente se sustentou (e em alguns meios ainda se sustenta) uma visão naturalista da função materna, o instinto materno, para fundamentar o desejo de uma mãe por seu filho, além de suas habilidades e conhecimentos nos cuidados para com ele. Uma leitura histórica a este respeito desconstrói rapidamente essa teoria na medida em que, ao viajar através dos séculos, nos deparamos com uma variação acerca das representações culturais da maternidade bem como do lugar da mulher e das crianças na sociedade. Por exemplo, nas sociedades primitivas todos os membros da família participavam ativamente dos cuidados com a gestante, inclusive durante o parto e, mesmo nos primeiros anos de vida do bebê. Assim, todos os membros familiares, mulheres e homens, adultos e crianças, podiam desenvolver ao longo de sua vida experiências e recursos próprios quando chegada sua vez, demonstrando que não se tratava de um instinto inato, mas de uma aquisição a partir do compartilhamento de vivências. Ou então, durante o século XVII até o início do século XVIII, na Europa Ocidental, as necessidades básicas relacionadas à sobrevivência da criança eram de responsabilidade do Estado, ao passo que os afetos eram delegados a cuidadores pagos, mesmo em classes mais baixas. Foi a partir de questões políticas e econômicas que o Estado fez um apelo às mães para que reivindicassem os cuidados com suas crianças, numa estratégia para se desresponsabilizar dessa função podendo economizar e investir em outras áreas.
Desse modo, quando desconstruímos as teorias que defendem um instinto materno inato, que além de tudo ignora a importância do função do pai (ou de um outro adulto independente do seu sexo pensando em casais homoafetivos), o que nos sobra?
A percepção de que cada homem e mulher tem um percurso particular ao se tornar pai e mãe. Isto é, a apropriação das funções parentais é uma construção atravessada pelas experiências com o próprio corpo, pela cultura vigente, pelas histórias familiares e pelas subjetividades de cada um. E ainda, temos que considerar que cada criança suscita ou demanda aspectos particulares de seus pais. Assim, ser mãe e pai de fulano não é o mesmo que ser mãe e pai de ciclano, ainda que eles sejam irmãos.
Neste sentido, qualquer criança, independente da maneira como foi concebida, precisa em alguma medida ser adotada por seus pais. Na adoção a inevitabilidade da construção da relação entre pais e filhos está anunciada desde o início, o que possibilita, ainda que não garanta, que tanto o casal quanto a criança e o entorno legitimem essa construção. Já na ovodoação, não há espaço para que essa necessidade apareça, pois à princípio, na contramão das reflexões propostas neste texto, ela parece representar uma ameaça ao vínculo.
Tal ameaça, no entanto, só se configura enquanto possibilidade real se, todos nós, alguns como espectadores (amigos, familiares, colegas de trabalho), outros como participantes ativos (equipe médica, outros casais em tratamento, demais profissionais da saúde) não possamos conceder aos (futuros) pais a possibilidade e a liberdade de refletir sobre qual o sentido desse tratamento para cada um, nem nomear e expressar receios e fantasias, de modo a ressignificá-los e incluí-los em seu discurso.
Além disso, vale ressaltar que existem outras heranças, ouso dizer mais importantes que a genética, que também produzem efeitos na constituição da criança e na dinâmica relacional entre pais e filhos. São os valores, costumes, historietas e anedotas familiares que atravessam as gerações daquela determinada família na qual a criança, independente de como tenha sido concebida, irá fazer parte. Aliás, revisitar tais valores, tradições e lendas familiares pode ser uma maneira interessante do casal refletir sobre o lugar que o filho irá ocupar dentro de ambos os contextos familiares, considerando que somos sempre herdeiros de uma dupla linhagem, a materna e a paterna. Isto é, ao resgatar suas histórias particulares, o casal talvez possa identificar seus receios diante da própria parentalidade, costurando suas histórias de modo que acomode um novo e desconhecido integrante.
Imagem: Google.
Texto escrito por Silvia Bicudo.
A Silvia é psicóloga (PUC-SP), psicanalista (Instituto Sedes Sapientiae) e acompanhante terapêutica em inclusão escolar. Com formação em Psicologia Perinatal e Parental (Instituto Gerar), fez parte da equipe da Ninguém Cresce Sozinho entre 2016 e 2018.